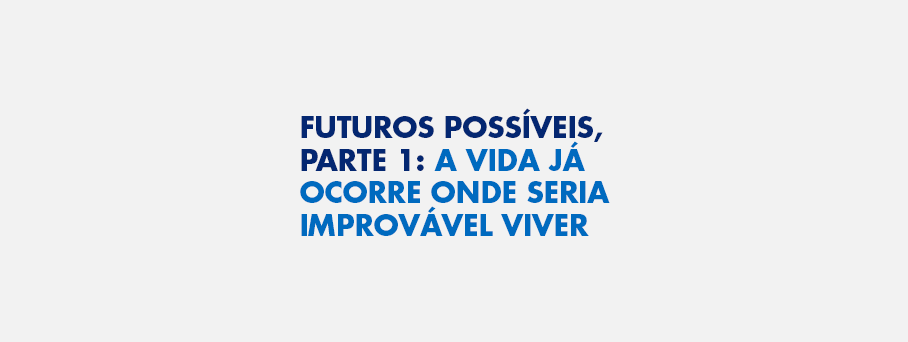Construir futuros possíveis passa por negarmos uma ideia de inclusão em um mundo baseado na exclusão.
Quando fui instada a pensar sobre “futuros possíveis” tive muitas dificuldades. A conjuntura atual no país não é das mais animadoras para vislumbrar cenários de possibilidade. Daí, então, me lembrei da artista plástica e pensadora Jota Mombaça, em seu recente livro “Não vão nos matar agora”, em que ela enuncia:
“Não vão nos matar agora porque ainda estamos aqui. Com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça, em becos infinitos, por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata.
Já não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para a frente. Não vim aqui para cantar a esperança. Não temo a negatividade desta época, porque aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva que menos com menos dá mais e, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia. Então, eu vim para cantar à revelia”. (2021, p. 13-14)
Esse intenso e profundo texto, redigido como carta, me remeteu Conceição Evaristo, que vislumbra como epígrafe de Mombaça, em seu aclamado conto “A gente combinamos de não morrer”. Essa conexão feroz e dilacerante do pensamento de mulheres negras me solapou de tal forma, que não é possível que eu fique prostrada, pensando que é muito difícil pensar em futuros possíveis. A vida, historicamente e no agora, de mulheres negras é a de pensar o possível pelo impossível. Ou seria o contrário? Nesse caso, a reinvenção transcende de tal forma que, a despeito de acharmos que a soma dos fatores altera o produto, nesse caso, isso não se torna realidade. Não altera o produto porque a dinâmica de dor, seja pela ligação da dororidade, seja pela ressignificação de uma sororidade para além da branca, se instaura de tal forma que reinventamos as nossas existências pelas margens.
A socióloga estadunidense, Patricia Hill Collins, adverte sobre as potencialidades dessas margens. Se, por um lado, excluem e marginalizam; por outro, permitem uma visão privilegiada do centro. Nesse sentido, acredito que construir futuros possíveis passa por negarmos uma ideia de inclusão em um mundo baseado na exclusão. Nas dinâmicas do sistema-mundo moderno, ou do neoliberalismo se preferir, não há espaço para todos e todas na mesa. E não devemos vislumbrar futuros possíveis baseados em sentar em uma mesa que derruba seus restos e migalhas pelos cantos, enquanto se refestela no mais brutal dos banquetes.
Assim, pensar em futuros possíveis demandará uma jornada de discussão sobre a fome, sobre as dinâmicas carcerárias (do que se entende por cárcere da prisão aos aprisionamentos para além disso). Pensar em futuros possíveis precisa passar por uma discussão sobre a Economia – e já falamos tanto aqui que a atual dinâmica e modelo de produção e consumo precisamos ser transformadas, destruídas e produzidas de novo.
Para pensar futuros possíveis é preciso falar de vidas que são dadas como impossíveis, que vivem em dinâmicas do impossível, que se reconstroem nas bordas. Remetendo novamente à Mombaça, ao falarmos de futuros possíveis, precisaremos superar “lógicas coletivas generalizantes”, mesmo que também neguemos um individualismo neoliberal. Seria viver num entre-mundos, e a partir da “quebra” e do “estilhaçamento” produzir novos sentidos para alavancar outros horizontes. Talvez o futuro possível esteja sendo já construído por essas vidas impossíveis de pretos, pobres, mulheres trans e não-binárias, favelados de cabelo nuvem, por cirandeiras que carregam história e cultura, por trançadeiras e lavadeiras, por entregadores de aplicativo, por coletivos de costureiras, por benzedeiras e sertanejos cansados da carcaça, mas fortalecidos pelo suco dos ossos. A vida já ocorre onde seria improvável viver.
Mais do que responder sobre futuros possíveis pretendo seguir abrindo o diálogo, principalmente pela tensão e pelo desconforto. Não muda de lugar quem está confortável. O conforto é o nosso perigo nesse momento. Um outro tipo de conforto deve ser construído, porque o que está aí não cabe a todos e todas. No desconforto nos encontramos e vamos tecendo colcha a partir de nossas vivências retalhadas. E termino, novamente, com Mombaça:
“E nada disso é fácil, nada disso é sem dor e desconforto. Ao tatear a possibilidade de uma coletividade forjada no movimento improvável de um estilhaçamento, vai ser sempre necessário abrir espaço para os fluxos de sangue, para as ondas de calor e para a pulsação da ferida. Politizar a ferida, afinal, é um modo de estar juntas na quebra e de encontrar, entre os cacos de uma vidraça estilhaçada, um liame impossível, o indício de uma coletividade áspera e improvável”.
O futuro possível passa por uma destruição, para nos reencontrarmos não do outro lado, mas nessa quebra, nesse fio de tempo de “caminhos instáveis”. Existir no desconforto, tocar em nossas feridas e, disso, construir o que queremos mirando o impossível.