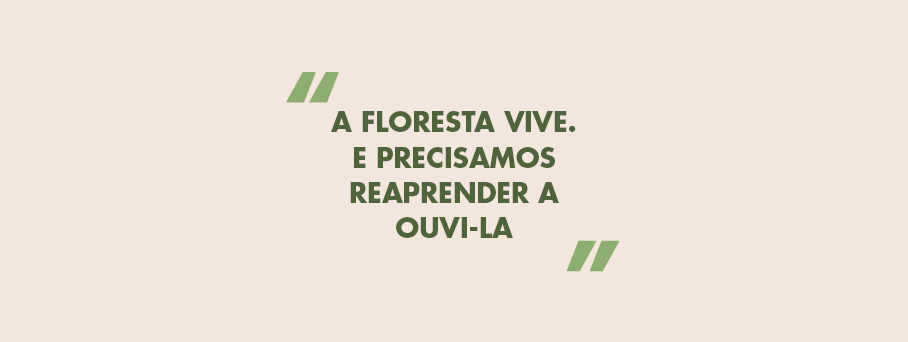Lá pelos meus 5 ou 6 anos, notei algo de diferente em minha bisavó. Diferente de minha avó, tias-avós, tios-avôs, de minha mãe e tias, minha bisavó não tinha a pele tão escura, apesar de sua cor me lembrar a terra. E, diferente dos nossos cabelos crespos, minha bisa tinha os cabelos lisos. Totalmente absorvida por aquele estranhamento, eu perguntei à minha avó Dice porquê ela era diferente de nós, pretinhos: “Porque a bisa é índia.” Minha única referência de índio (sic) naquela altura estava relacionada às fábulas que contavam na escolinha – sou uma pessoa que vai à escola desde o berçário – quando nos fantasiavam, essa é a expressão, com riscos de guache no rosto e uma pena de papelão, pintada por nós, presa a uma tiara de cartolina. Até aquele momento, a figura indígena estava relacionada a algo distante, quiçá extinto, ligada a estórias folclóricas. Por dias, aquilo ficou na minha cabeça: como podia a bisa ser indígena, se ela não morava na floresta? E, como toda criança curiosa, tornei a perguntar à minha avó, filha de minha bisa, sobre essa, que era para mim, uma grande questão. Até hoje, me recordo da gargalhada de minha avó Dice ao escutar minha pergunta, no que ela respondeu: “Juba, índio (sic) não vive só na floresta. Mas a minha mãe, na verdade, fugiu com o meu pai, seu biso, para casar. Seu biso era pretinho, pretinho e, por isso, somos de cor diferente da bisa”. Aquilo tilintou em minha mente como uma festa. Primeiro, a descoberta de que indígenas não vivem apenas na floresta e, em segundo, pela história, então, de amor que configurou nossa família. Ocorre que eu nunca conheci meu biso pretinho, mas tenho como biso a figura do segundo casamento de minha bisa, um homem negro de pele clara. E, daí, entendi porquê nossa família era tão colorida.
Essa história ficou para trás por muito tempo. Apenas já adulta que passei a compreender algumas coisas em minha bisa que ainda a relacionavam à floresta, mesmo sendo uma indígena da cidade. A primeira, as plantas, sementes e raízes. Em casa, tudo se resolve com alguma planta. Os remédios farmacêuticos convivem em meio a essa herança de minha bisavó. Mas, se alguém não está bem do estômago toma o omeprazol com um chá de boldo. Se há prisão de ventre, toma chá de sene; quando sente desarranjo, toma chá de folha de goiaba; se está na menopausa, toma chá de folha de amora; se tem dor de cabeça; toma chá mate; se está com insônia, toma chá de alface ou de camomila ou os dois. No quintal da casa de minha infância, tínhamos muitos pés de alguma coisa. Quando eu não estava bem, minha mãe ia até o quintal e colhia um punhado de hortelã e me preparava um chá. Nas ideias à praia nas férias, em vez do bronzeador da farmácia, usávamos óleo de urucum – hoje, sabe-se que a utilização desses óleos in natura podem ocasionar estragos severos na pele. Eu confesso a você, leitora, que não sei se minha mãe e tias misturavam a semente com alguma outra coisa para proteger a pele, é provável que sim. Mas assim que era. E se eu ficava chorosa, tudo se resolvia com rezas que minha avó fazia e que eu nunca soube muito bem o que era dito. Hoje, sei que ali misturava-se catolicismo, candomblé e xamanismo. Mas, saber o que elas diziam? Acho que nunca saberei. Entre eu e minhas irmãs, quem herdou essa linha ancestral foi minha irmã do meio. Tudo se resolve com um chá e uma casa de produtos naturais é como um oásis para ela.
A segunda coisa que passei a relacionar, e que não sei bem explicar de modo que não fique um tanto romantizado, era o jeito que minha bisa lia as coisas e as resolvia. Não me recordo de nenhuma bronca que eu tenha recebido de minha bisavó sem algum conhecimento investido. Não pode, mas existe um porquê. E essa explicação era imbricada ao fantástico e ao encantado. Mesmo minha bisa tendo se convertido ao catolicismo e estar envolta à dinâmica da cidade, algo em seu jeito de ler as coisas ainda estava ligado a um outro tipo de cosmovisão, palavra e conceito que só fui conhecer depois que ela já havia falecido. Essa história de minha bisa é o fio para refletir sobre essa complexa relação de conexão tão frágil e dos porquês para esse apagamento de saberes.
Nos últimos cinco anos é que passei a buscar em minha vida referências indígenas sobre como entender o mundo, sobre como apreciar música e poesia, sobre como ler histórias e compor meu modo de estudar e viver que não fossem pontos fora da curva ou algo excepcional, mas parte comum da vida. Esse é outro ponto que nós, não indígenas, costumamos falhar: lidar com o indígena como o excepcional, como uma excentricidade.
Muito tenho refletido sobre o quanto eu poderia ter trocado com minha bisavó. De certa forma, parte de seus conhecimentos foram resistindo no tronco familiar, a partir das mulheres, principalmente. Mas, o quão rica seria minha vida, e nossas vidas, se não houvesse um processo sistêmico e político de apagamento da cosmovisão indígena sobre o que somos. A esse processo chamamos epistemicídio.
O conhecimento é uma arma poderosa e é um estar consciente sobre algo; o domínio de alguma esfera, envolvendo prática e/ou teoria. É um modo pelo qual compreendemos experiência, o mundo e nós mesmos. E, nesse sentido, uma das formas de constituir e fixar sistemas de dominação e subalternidade passou pela destruição e deslegitimação de múltiplos conhecimentos, com o intuito de estabelecer apenas um conhecimento como válido, como verdade, realidade e/ou o melhor dentro de uma hierarquização para a exploração.
O cartesianismo, do “penso, logo existo”, passou a ser instituído como única forma de compreensão do mundo, onde o ego/eu passou a ser central na produção do conhecimento. Ou seja, o conhecimento não partia mais, e apenas, de um ser supremo, mas daquele que percebia-se pensante. Essa política do ego se apresenta de forma pretensamente universal e única para validar o que é ou não ciência. E, todos os corpos que repugnam essa imparcialidade são lidos e ditos desqualificados e, com isso, são invalidados. Ora, um exemplo é o urucum citado anteriormente. Se, por um lado, o uso da semente diretamente à pele pode causar danos à saúde; por outro, muitos são os produtos da indústria dos cosméticos, a partir de um modo de produção, que utilizam da semente como matéria-prima para aperfeiçoar os bronzeados. Ou seja, há um processo de extração desse conhecimento e das propriedades sobre essas fontes para comercialização e lucro de alguns em detrimento de outros. E assim o é para diversos outros princípios ativos que são cotidianamente patenteados por aqueles que os usurpam das florestas, desqualificam os originários e seus conhecimentos sobre estes, mas que desenvolvem fórmulas para serem comercializadas em vitrines de shoppings centeres, sem que qualquer retorno exista para as comunidades.
Em 1552, um importante debate se estabeleceu e impactou na organização da divisão internacional do trabalho no capitalismo moderno: o julgamento de Valladolid. Nele, foram confrontadas as ideias de Gines Sepulveda e Bartolomé de las Casas em torno da compreensão dos “índios”. O primeiro argumentava que os indígenas eram desalmados porque, percebam, não tinham propriedade privada, nem sistema de acumulação de bens. Enquanto que, para de las Casas, indígenas possuíam alma em estado primitivo sendo, portanto, necessária a evangelização. Esses são os discursos que basearam os racismos biológico e cultural, respectivamente. Assim, constituiu-se a ideia de civilização x barbárie. A missão civilizatória foi, portanto, uma missão desumanizadora e constitutiva da “colonialidade do ser”.
A “missão civilizatória”, portanto, impôs uma colonização da memória e corrompeu a imagem das pessoas sobre si próprias, sobre o mundo espiritual, nas suas relações com a terra, nas relações intersubjetivas, em como percebem a realidade, na organização político-econômica e social e na cosmologia. E essa visão que cria as falsas dicotomias entre Natureza X Cultura, que se vê superior a Natureza, como apartado dela. Essa é uma matriz do etnocentrismo, em que europeus percebiam que todos tem corpo, mas nem todos possuíam alma; ao passo que para os indígenas, todos tem alma, mas os corpos são diferentes. Ou seja, ao etnocêntrico há negação de alma em todos os corpos; ao passo que os ameríndios duvidavam que almas tenham sempre o mesmo corpo.
Esse choque e hierarquização de cosmovisões é estudado em uma vertente da Antropologia: o perspectivismo que, segundo Eduardo Viveiros de Castro, não é um relativismo, mas um relacionalismo. Ou seja, o ponto de vista não é subjetivo, mas as coisas e os seres é que são pontos de vista. Estamos, portanto, falando de uma diferença de perceber e ler o mundo e não uma diferença na capacidade de pensar sobre o mundo. Então, quando falamos em tecnologia como fruto apenas das inovações científicas ocidentais, estamos corroborando a hierarquização de produções tecnológicas de outros povos, a capacidade de inventividade e de produção de conhecimento. Ou seja, não é possível medir instrumento tecnológico, se não pela sua capacidade de atender as necessidades de sua sociedade. Quando assim o fazemos, negamos humanidade ao outro.
Diante disso, como não ser ferramenta reprodutora de apagamentos, de sustentação ao epistemicídio? Comecemos pela redefinição de elementos que constituem o que entendemos como válido e como humano; o fomento ao pensamento crítico e a pensar a partir de onde pisam os pés. Em “A queda do céu”, Davi Kopenawa, explicita bem a confrontação com essa ideia do ego, do universalismo e da hieraquização dos seres, ao afirmar:
“No entanto, no primeiro tempo, todos fazíamos parte da mesma gente. As antas, os queixadas e as araras que caçamos na floresta também eram humanos. É por isso que hoje continuamos a ser os mesmos que aqueles que chamamos de caça, yaro pë. Os coatás, que chamamos paxo, são gente, como nós. São humanos cuatás: yanomae tʰë pë paxo, mas nós os flechamos e moqueamos para servir de comida em nossas festas reahu! Apesar disso, aos olhos deles, continuamos sendo dos deles. Embora sejamos humanos, eles nos chamam pelo mesmo nome que dão a si mesmos. Por isso acho que nosso interior é igual ao da caça, mesmo se atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, fingindo sê-lo. Já os animais nos consideram seus semelhantes que moram em casas, ao passo que eles se veem gente da floresta. Por isso dizem de nós que somos ‘humanos caça moradores da casa!’”
Essa é uma perspectiva fundamental para discutirmos floresta: percebermos que somos também natureza e que estarmos vivos faz parte da conexão com todos os seres que aqui habitam. A floresta vive. E, ainda nas palavras do xamã Davi Kopenawa, lemos:
“A floresta é de Omama, e por isso tem um sopro de vida muito longo, que chamamos urihi wixia. É a sua respiração. (…) Vivemos pouco tempo e morremos depressa. Já a floresta, se não for destruída sem razão, não morre nunca. Não é como o corpo dos humanos. Ela não apodrece para depois desaparecer. Sempre se renova. (…) Então, quando estamos doentes, às vezes tomamos seu sopro de vida emprestado, para que nos sustente e nos cure. É o que os xamãs fazem. A floresta respira, mas os brancos não percebem. Não acham que ela esteja viva. No entanto, basta olhar para suas árvores, com as folhas sempre brilhantes”.
Quando li esse trecho pela primeira vez, principalmente o que está sublinhado, logo lembrei de minha bisavó. E lamentei que processos de apagamento tenham, talvez, impedido que tivéssemos convivido e aprendido muito mais e constituído em mim uma outra forma de ver o mundo. Assim, considero que para pensarmos o que vivemos, inclusive o momento pandêmico e de forte destruição e, se quisermos interromper esses processos, precisamos nos referenciar nos conhecimentos tornados subalternos; nos opormos à universalidade, reafirmarmos os múltiplos; reconhecermos formas diferentes e essências em diálogo; rompermos com hierarquias; construirmos insurgência e dissidência.
Ao falarmos em “povos da floresta”, “povos originários”, não estamos falando de povos distantes e folclóricos, mas que resistem e rompem silêncios constantes, não se dobram a imposições e que precisamos ouvir para construir o comum, rompendo com sobreposições. Não é sobre exotismo, sobre ser alternativo em seu próprio mundo, em uma ótica individual. Mas de realmente estabelecer escuta, de realmente incorporar percepções, de se referenciar, ler, ouvir, assistir, fazer como parte de si, sem tomar a frente dos detentores do protagonismo desse processo que considero uma luta pela sobrevivência de todos nós. Se queremos viver, é preciso que escutemos a floresta. E se estão conosco os que não romperam o elo com ela, precisamos ouvi-los para reaprender a ouví-la. E, desse modo, voltaremos a escutar a nós mesmos.
PS: esse texto é dedicado à minha bisavó Damiana.