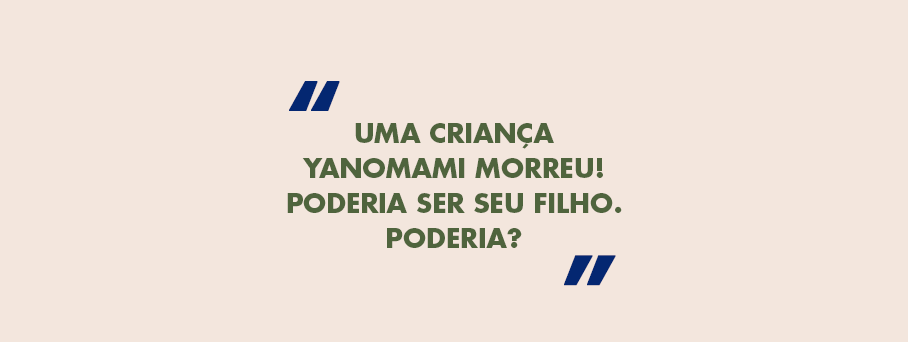Um breve desabafo diante da epidemia da falta de empatia e da naturalização da violência em nosso país.
“Nunca vivemos, como os brancos, em terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar. No primeiro tempo, nossos maiores viviam sozinhos na floresta, longe das mercadorias e dos motores. Essas fumaças de epidemia têm um cheiro ruim que cortou o sopro de vida deles.”
(Davi Kopenawa, em “A queda do céu”)
Um outro texto estava preparado para essa quinzena. Eu falaria sobre maternidade e feminismo. De certo modo, falarei um pouco sobre a ideia deturpada que temos do exercício da maternidade ou do que significa criar um outro ser humano dependente de nós até certo ponto da vida. Ou, na verdade, farei um desabafo sobre o descaso que temos para com esses seres humanos ainda em formação.
Peço, então, licença às minhas companheiras de Bemglô para esse desabafo. E me desculpo de antemão. Os tempos têm feito com que escrever pareça uma atividade um tanto vazia. Afinal, por que escrevo? Qual o efeito de minhas palavras diante dos horrores que estamos vivendo e vivenciado? Por que não há efeito, se palavras são também espaço de poder? Daí, então, pensei se eu poderia falar, se me está autorizado o espaço da fala; e me lembrei da intelectual Rosane Borges alertando que “sim, nós falamos”, mas que a grande questão é: estão nos ouvindo? Quem está sendo ouvido, visto, considerado? A quem está direcionado e permitido o direito de ser reconhecido como ser que pensa, produz e que, portanto, troca, soma? Se diálogo é espaço e momento de, pelo menos, dois, quem são esses dois considerados na arena pública de debates, de direitos?
Uma criança yanomami morreu de desnutrição. E o silêncio de parcela expressiva de pessoas que falam pelos cotovelos foi como uma segunda morte e como um incômodo crescente em mim. Esse silêncio me fez pensar que, talvez, escrever sobre isso de nada valeria. Mas, ao mesmo tempo, se eu não utilizo meu espaço de escrita para tal, eu reforçaria o silêncio e a pior morte: o esquecimento. E nós não podemos permitir o esquecimento. Não se nós ainda nos importamos como tanto falamos que nos importamos. Mas, volto a questão: o ponto é falar? Ou o ponto é ser ouvida? Tem alguém aí do outro lado da tela?
Eu iniciaria esse parágrafo dizendo que estamos há mais de 1 ano e 3 meses em um cenário de terror. Mas, isso seria, de certa forma, acreditar que, antes, vivíamos em um romance. Somos líderes da epidemia da falta de empatia, da naturalização da violência, do silenciamento ao que é considerado marginal e indigno pelos que se colocam como padrão, como medida da régua da humanidade. Que tipo de reivindicação à ideia de maternidade estamos fazendo quando uma criança yanomami morre de desnutrição e nada fazemos sobre isso? Pior, sequer falamos sobre isso? Qual é a nossa função quando reivindicamos o papel de “apoiadores” da causa indígena?
A criança tinha cerca de 1 ano e pesava apenas 3kg. O Conselho de Saúde Indígena denunciou a morte da criança, na comunidade de Yarita, território Yanomami, em Roraima. Antes do falecimento, servidores de saúde solicitaram que a criança fosse deslocada para a capital do estado, a fim de receber cuidados médicos intensivos. Por que esse cuidado não chegou? O distrito sanitário responsável recebeu a solicitação no dia 20 de maio e o socorro nunca chegou. O mínimo que meu espaço de escrita se pergunta é: por que? O que dá espaço à negligência?
Em geral, vimos o discurso do senso comum de que há ausência de Estado para povos subalternizados. Eu nego essa narrativa. A morte da criança yanomami é fruto de uma escolha política e, portanto, de uma ação por NÃO fazer. Desse modo, o Estado está presente por uma ação indireta, por uma decisão política pelo descaso, sob uma política de precarização e, como consequência, de extermínio. E precisamos nominar isso. Que tipo de defesa de maternidade nossa sociedade faz que não garante as condições mínimas para que uma mãe, hoje, dentre centenas, se não milhares, não tenha que velar e chorar pela memória de seu pequeno? Que ideia de “mãe” nós temos, ao achar que todos nós não devemos estar comprometidos e dedicados em defesa da vida, para que crianças indígenas, negras, faveladas e periféricas tenham garantido o direito a 5 refeições diárias e não morram pela fome? Que ideia de maternidade e proteção nós temos se não nos indignarmos e demandarmos que os responsáveis por essa morte, e tantas outras, cumpram seu trabalho de garantia da dignidade, em vez de andarem de motocicleta pelo país como um líder fascista de outrora?
Meu desejo era o de que a coluna de hoje falasse sobre maternidades alternativas e incríveis possíveis. Meu desejo era o de que minhas palavras pudessem ser um acalanto diante do caos. Mas, os tempos têm me deixado amarga. Escrever é a arma que tenho. Você me lê? Você me ouve? Você vê a criança yanomami como uma igual? E, se vê, qual a sua arma para não permitir que sua morte caia no esquecimento?